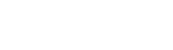INTRODUÇÃO
A ação, atualmente conceituada com um direito público subjetivo, acessível a todos, exercido contra o Estado e em face de um adversário, precisou de séculos de maturação jurídica, filosófica e, até mesmo, etimológica, para que alcançasse tal formatação. Diversos juristas, durante séculos, dedicaram preciosas teorias, das mais diversas correntes filosóficas, para encaixar este fenômeno jurídico em uma categoria de estudo.
Iniciando, tem-se com a teoria imanentista, ou civilista, imaginada pelo jurista alemão Friedrich Carl von Savigny, uma visão primitiva da ação, como sendo a primeira tentativa de explicar o direito de provocar a máquina estatal para resolver litígios. Com a idealização de que a ação seria imanente ao próprio direito material, tal ideia que perdurou até meados do século XIX, quando, em razão de diversos debates a respeito da natureza jurídica do instituto, passa a ceder espaço a novas linhas de pensamento.
Assim, seguindo as discussões entre Windscheid e Muther, em 1885, Adolph Wach, jurista alemão, formalizou o nascimento da Teoria Concreta, dando os primeiros passos para a emancipação da ação do direito material, ao afirmar que aquela não precisa, necessariamente, vincular-se a este.
Com o passar dos anos, ainda surgiriam novas ideias, valendo citar as proposições teóricas de Giuseppe Chiovenda, Degenkolb e Plósz, como grandes contribuintes e que iriam fundar novos caminhos e correntes, até chegar onde o italiano Enrico Tullio Liebman, autor da vertente atual sobre os entendimentos quanto a natureza da ação, sistematizou. De tal modo, o estudo cronológico de cada uma destas torna-se indispensável.
1 A TEORIA IMANENTISTA
Nos primórdios da discussão acerca da natureza jurídica da ação, esta era vista como o uma mera vertente do direito material. Compreendia-se que a ação era extensão do próprio direito material, pois, violado este, tem o ofendido direito à reparação. Conforme descrevem Cintra, Grinover e Dinamarco (2012): “a ação é tida, enfim, como o direito de pedir em juízo o que nos é devido” (p. 279). Assim sendo, caso o credor exercesse sua faculdade de levar a violação de seu crédito a juízo, o que se veria, aí, seria o próprio direito de crédito reagindo à sua violação, em movimento, e, não, um direito autônomo de acionar o judiciário para que substitua as partes e decida, imparcialmente, a lide; “logo, não há ação sem direito, nem direito sem ação. E a ação segue a natureza do direito” (CINTRA, DINAMARCO, GRINOVER, 2012, p. 268).
De tal modo, teve origem a teoria civilista do direito de ação, perpetuada por Savigny e acompanhada pela maioria dos juristas, até meados do século XIX. Conforme explica José Miguel Garcia Medina (2015, p.35), em tal concepção, a ação era vista como extensão do direito material, e não uma proteção do cidadão contra o Estado. Vale citar, porém, que ainda existem resquícios desta teoria em nossa legislação: originou o art. 75 do Código Civil de 1916 (“a todo direito corresponde a uma ação que o assegura”), bem como, no Código Civil de 2002, os artigos 80, I, e 83, II e III.
Após séculos de unanimidade dentre os sistemas de leis decentes do direito romano, começaram a surgir críticas à estrutura deste entendimento a respeito da ação, por ser incapaz de explicar a natureza jurídica da ação declarada improcedente, que repulsa a pretensão de direito – pois, na verdade, constituiria uma possibilidade de ação sem direito assegurado, ou até mesmo a ausência de uma ação.
2 A POLÊMICA ENTRE WINDSCHEID E MUTHER
O crescente descrédito da teoria imanentista, em todos os aplicadores do direito, deu início a diversos debates acerca de sua inaptidão. Um deles, perpetrado pelos alemães Theodore Muther e Bernhard Windscheid, em meados do século XIX, sobre o correto entendimento da actio, teve imenso destaque e inegável importância a evolução do entendimento sobre o direito de ação.
Conforme ensinam Garcia e Braga (2014, p. 123), Windscheid considerava que actio se referia a pretensão material em oposição ao réu, argumentando que o direito material age de modo que ecloda uma predileção do seu titular de fazer-se valer da própria vontade, vinculando a vontade alheia, que é denominada de pretensão (Anspruch). Muther, por outro lado, pensava que actio era o direito público de demandar algo contra o Estado (Klagerecht). Windscheid não cede, porém, também, não contesta mais a possibilidade do direito público de litigar versus o Estado.
Ao fim, ambos concordam com a ideia de existência de uma diversidade entre a pretensão material (Anspruch) e o direito de ação (Klagerecht); sendo assim, tem-se uma concepção do direito de ação como o direito de originar a execução da jurisdição.
3 A AÇÃO COMO DIREITO AUTÔNOMO
Mesmo com a inegável autonomia do direito de ação – agora pacificado na doutrina – surgem, agora, novos questionamentos acerca deste instituto: caso seja negada a demanda, seria tido como satisfeito o direito de ação? Além disso, contra quem é exercida a demanda?
Para sanar estes e outros questionamentos, diversas teorias, escolas e autores foram ganhando espaço, no âmbito jurídico. Dentre estes, como destacam Cintra, Grinover e Dinamarco, (2010, p 272). destacam-se, inegavelmente, Adolf Wach, Giuseppe Chiovenda, Heinrich Degenkolb, entre outros.
3.1 A AÇÃO COMO DIREITO AUTÔNOMO E CONCRETO
Conforme brilhantemente ensina Marinoni (2008, p. 167), na concepção concretista, o direito de ação é exercido tanto contra o Estado, como contra o demandado. Tal entendimento foi fundamentado por Wach, tendo em vista, principalmente, a ação declaratória; diferentemente de objetivar a realização de um direito subjetivo, visa declarar “a existência ou inexistência de uma relação jurídica”. Destaca o autor:
Se o autor pode propor uma ação para declarar a inexistência de uma relação jurídica, é lógico que a ação não tem como pressuposto um direito material insatisfeito. Na verdade, a ação declaratória, seja da declaração da existência ou da inexistência de uma relação jurídica, requer apenas um interesse na declaração (MARINONI, p. 167, 2008)
Foi seguindo os passos de Muther que Adolf Wach, jurista alemão nascido no século XIX, elaborou a teoria da ação como direito autônomo e concreto, classificando o instrumento como um direito não-incidental dirigido contra o Estado e o litigante (em verdadeiro litisconsórcio necessário unitário passivo). Deste modo, consagra-se a ideia de que o direito material lesado está desvinculado da ação, que seria satisfeita por meio de proteção concreta; ou seja, só há direito de ação quando a sentença é favorável à parte demandante.
Por este prisma, porém, deve-se interpretar que, por mais que a ação esteja desvinculada do direito material, este ainda é pressuposto para a existência daquela. Assim, qualifica-se a sentença apta a legitimar o direito de ação como “sentença justa” (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO apud BULOW, 2010, p. 272-273).
3.2 A AÇÃO COMO DIREITO POTESTATIVO
Ainda no âmbito da ação como direito concreto, surge, proposta pelo italiano Giuseppe Chiovenda, outra vertente teórica, tendo como objeto a ação: a teoria da ação como direito potestativo – em face do oponente.
Discordando da atual classificação da ação (direito público subjetivo), Chiovenda propõe que, na verdade, esta é o direito de demandar, dirigido unicamente contra o adversário, do qual corresponde em sujeição. Deste modo, “a ação configura o poder jurídico de dar vida à condição para a atuação da vontade da lei” (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO. 2010. p. 273) e seria “(...) um direito potestativo a ser exercido em relação ao adversário (MEDINA, op. cit.).
Deste direito, ao ser acolhido pelo juiz, inicia-se uma relação de poder entre o autor e o réu. Assim ensina Luiz Guilherme Marinoni:
Ao precisar seu conceito de ação, Chiovenda esclarece que a ação é um poder em face do adversário, mais do que um poder contra o adversário. Como isso, quer dizer que a ação não exige obrigação alguma, pois o adversário, diante da ação, não é obrigado a nada, mas apenas fica sujeito aos efeitos jurídicos da atuação da lei (MARINONI, p. 168, 2008)
De certa maneira, o ponto de vista instituído por Chiovenda, ao classificar a ação como a manifestação de um direito de poder, de quem tem razão sobre quem não tem, também é pautado no entendimento formulado por Wach e outros: só existe, verdadeiramente, a ação, quando a sentença for favorável ao demandante.
3.3 A AÇÃO COMO DIREITO AUTÔNOMO E ABSTRATO
Também na Alemanha, Heinrich Degenkolb lança mão de uma teoria um pouco diferente, que classificava o direito de ação como autônomo, também, porém abstrato; ou seja, independente do teor da sentença (positiva ou negativa) e da preexistência de direito material. Concomitantemente, o húngaro Alexandre Plósz, lança parecer similar, onde entendia que o direito de agir não exclui a possibilidade de uma sentença desfavorável (MARINONI, p. 165, 2008)
Também adepta do entendimento de que a ação não está vinculada ao direito material, essa teoria foi criada como uma espécie de segunda via à efervescente doutrina que advogava pela concretude do direito de ação. Assim, não deixa de existe ação quando a sentença nega a pretensão do autor, nem quando uma sentença injusta (que não corresponde ao direito material) for proferida.
Como citam Cintra, Grinover e Dinamarco (ob. cit., 2010):
A demanda ajuizada pode ser até mesmo temerária, sendo suficiente, para caracterizar o direito de ação, que o autor mencione um interesse seu, protegido em abstrato pelo direito. É com referência a esse direito que o Estado está obrigado a exercer função jurisdicional, proferindo uma decisão, que tanto pode ser favorável como desfavorável.
Como explica Marinoni (ob. cit., 2008), Plósz e Degenkolb “sustentaram a ideia de que o direito de agir é antecedente ao seu exercício, que se daria através da demanda” (p. 165). De tal modo, a demanda deveria basear-se num pedido cujo objeto fosse lícito, pois não poderia, o agente, mover a máquina judiciária para cobrar dívida de jogo (MARINONI, p. 165-166)
4 A TEORIA ECLÉTICA DA AÇÃO
Enfim, em 1949, tendo sido superadas as correntes que condicionavam o reconhecimento de direito de ação a uma sentença positiva, surge a teoria eclética da ação, proposta pelo italiano Enrico Tullio Liebman. Adepto da garantia constitucional do acesso ao judiciário, o autor define ação como um direito subjetivo instrumental, do qual não corresponde uma obrigação do Estado.
Liebman demonstrou grande esforço em diferenciar o direito de ação, constitucionalmente garantido, da ação em si. Conforme ensinam Cintra, Grinover e Dinamarco (2010), “(...) o direito de ação constitucional (emanação do status civitatis), (...) não pode ter nenhuma relevância ao processo, constituindo o simples fundamento ou pressuposto pelo qual se baseia a ação em sentido processual” (p. 275). Além disse, segundo a teoria proposta pelo italiano, tal função jurisdicional dar-se-ia por existente com uma sentença sobre o mérito, positiva ou negativa.
O ponto crucial da doutrina de Liebman – e o motivo que, fundamentalmente, a diferencia das demais – é encontrado no condicionamento da ação. De certa forma, pode-se afirmar que, para Liebman, a ação é um instrumento desvinculado do direito de material, de existência abstrata, porém condicionado a determinadas circunstâncias. Este entendimento, notoriamente recepcionado pelo direito brasileiro (tanto pelo Código de Processo Civil de 1973, quanto pelo novo código, de 2015), conforme asseveram Cintra, Grinover e Dinamarco (2008), limitaria a resolução do mérito a três condições: possibilidade jurídica do pedido; interesse de agir e legitimidade ad causam. Deste modo, pode-se concluir que, para que a demanda seja considerada verdadeiramente exercida, indispensáveis são as condições da ação.
Tal entendimento sofreu aparente mitigação, com a promulgação do Código de Processo Civil brasileiro, de 2015, onde a lei expressa unicamente, em seu artigo 17, que “para postular em juízo é necessário interesse e legitimidade”. Apesar disso, a conclusão não aponta para o entendimento de que não há mais necessidade de possibilidade jurídica do pedido; pelo contrário: por serem mais amplos, as duas condições acima citadas englobam, logicamente, pedido juridicamente possível.
5 A AÇÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO
Como acima apontado, a promulgação do Novo Código de Processo Civil brasileiro não promoveu notória alteração no direito de ação; unicamente, não mais se fala em possibilidade jurídica do pedido, pois englobado pelas outras condições. Está genericamente apreciado pelos artigos 2º e 17, que consagram o princípio da inércia judicial e as condições para demandar, respectivamente.
A respeito da extinção da ação, por outro lado, com a consagração do princípio do contraditório participativo, garantidos pelos artigos 9º e 10 da nova norma, caso não presentes as condições da ação, antes de extinguir o processo, deve o juiz possibilitar à parte proposição de emenda, visando sanar o vício encontrado.
CONCLUSÃO
Com base na contextualização história aqui demonstrada, fica evidente que, assim como demais institutos de direito, o conceito de ação sofreu incontáveis processos de adaptação hermenêutica e epistemológica, passando a figurar tanto como um direito meramente material e privado como um verdadeiro mecanismo garantia ao acesso à jurisdição.
Inegável fica a imensa influência da doutrina de Liebman no Direito Processual brasileiro, quando analisada em comparação aos Códigos de 1973 e 2015. Atualmente, entendemos a ação como um direito público subjetivo, necessitando o autor demonstrar interesse na demanda e legitimada para a causa.
O estudo propedêutico dos mecanismos dispostos no atual ordenamento jurídico pátrio é de inquestionável relevância; não apenas pelo próprio enriquecimento educacional que tal vertente do ensino proporciona, mas, principalmente, para que a Ciência do Direito progrida e, consequentemente, possa cumprir seu primordial papel de instrumento de controle social.
REFERÊNCIAS
CINTRA, A. C. A.; GRINOVER, A. P.; DINAMARCO, C. R. Teoria Geral do Processo. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2010.
CINTRA, A. C. A.; GRINOVER, A. P.; DINAMARCO, C. R. Teoria Geral do Processo. 28 ed. São Paulo: Malheiros, 2012.
GARCIA, L. M.; BRAGA, P. S. Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo Civil. 3 ed. Salvador: Jus Podivm, 2014. p. 123.
MARINONI, L. G. Curso de Processo Civil: Teoria Geral do Processo. 3 ed. vol 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
MEDINA, J. M. G. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 35.