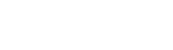Introdução
A atuação do Poder Judiciário, em algumas questões, tem sido objeto de
grandes polêmicas. O debate polariza-se entre aqueles que defendem a sua
atuação livre e sem limites, e outros que pregam a sua autolimitação.
O ativismo, entendido como “[...] uma postura a ser adotada pelo magistrado
que o leve ao reconhecimento da sua atividade como elemento fundamental para o
eficaz e efetivo exercício da atividade jurisdicional”, tem sido objeto de resistências
em face da possível ofensa ao princípio da separação de poderes, consagrado no
segundo artigo da Constituição da República.
O ativismo judicial é uma atitude, ou seja, a escolha de um modo específico e
proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance.
A separação ou divisão de poderes significa que cada órgão é especializado
no exercício de uma função, cabendo às assembleias (Congresso, Câmara,
Parlamento) a função legislativa, ao Poder Executivo, a função executiva e ao Poder
Judiciário, a função jurisdicional.
Outro problema atualmente em debate é a judicialização de questões
políticas, ocasião em que o Poder Judiciário decide controvérsias de natureza
política, o que, aparentemente, também ofende o princípio da separação de
poderes.
É verdade que a judicialização, ainda que excessiva, é fenômeno inerente ao
nosso estado democrático de direito, o qual a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, conforme disposto no art. 5º, inciso
XXXV da Constituição da República.
Assim, por meio do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional,
[...] todos têm acesso à justiça para pleitear tutela
jurisdicional preventiva ou reparatória a lesão ou ameaça de
lesão a um direito individual, coletivo, difuso ou até individual
homogêneo. Constitui, portanto, um direito público subjetivo,
decorrente da assunção estatal de administração da justiça,
conferido ao homem para invocar a prestação jurisdicional,
relativamente ao conflito de interesse qualificado por uma
pretensão irresistível
Como visto, a judicialização faz parte do amadurecimento da sociedade, que
está cada vez mais ciente de seus direitos e não poupa esforços em recorrer ao
Judiciário quando eles forem desrespeitados.
O problema não está na judicialização excessiva, que até pode ser
considerada benéfica do ponto de vista da conscientização dos direitos, mas sim na
judicialização de questões que não deveriam ser levadas à esfera do Poder
Judiciário. Na verdade, o problema reside na aceitação dessas controvérsias pelo
Judiciário, bem assim na assunção da responsabilidade de resolvê-las, quando
deveriam ser remetidas ao foro competente.
Conforme frisou Canotilho, “[...] os juízes devem autolimitar-se à decisão de
questões jurisdicionais e negar a justiciabilidade das questões políticas”.6 As
questões políticas, atinentes à competência do Poder Executivo, devem ficar fora do
controle jurisdicional.
O embate entre constitucionalismo e democracia
A polêmica entre constitucionalismo e democracia remonta ao século
passado, oportunidade em que o filósofo alemão Carl Schmitt escreveu a obra “Der
Hüter der Verfassung” (O Guardião da Constituição), defendendo que somente o
Presidente do Reich, em conformidade com o artigo 48 da Constituição de Weimar,
teria legitimidade para representar os desejos do povo alemão.
Em desacordo com a tese sustentada por Schmitt, o filósofo austroamericano
Hans Kelsen publica o ensaio intitulado “Wer soll der Hüter der
Verfassung sein?” (Quem deve ser o guardião da Constituição?), em que defende a
ideia da necessidade de um Tribunal Constitucional para exercer a guarda da
Constituição.
Kelsen prega a existência de um tribunal constitucional independente dos
demais Poderes do estado, uma vez que,
[...] seria naturalmente necessário, porém, exigir que o
tribunal constitucional a que caberia julgar as leis e
regulamentos da União e dos estados federados
proporcionasse, por sua composição paritária, garantias de
objetividade suficientes, e se apresentasse não como um
órgão exclusivo da União ou dos estados federados, mas
como o órgão da coletividade que os engloba igualmente, da
Constituição total do Estado, cujo respeito seria encarregado
de assegurar
Ao polemizar com Schmitt, Kelsen
[...] procura demonstrar o caráter ideológico das teses
do Professor de Berlim, resultante da confusão entre ciência e
política e, em um sentido mais circunscrito, entre teoria jurídica
e teoria política. Kelsen se ocupa de resguardar a defesa da
Constituição ante o defensor proposto por Schmitt, pois
segundo afirma “nadie puede ser juez de su propia causa”.
Schmitt, ao defender a legitimidade do Presidente do Reich para representar
o povo e defender a Constituição, entende que a atribuição de soluções judiciais a
problemas políticos apenas traz prejuízos ao Poder Judiciário, pois representa mais
uma “politização da justiça” do que uma “judicialização da política”, sendo que a
política nada tem a ganhar e a justiça tem tudo a perder.
Assim, em conformidade com o artigo 48 da Constituição de Weimar12, o
único que teria legitimidade para representar o povo seria o Presidente do Reich,
que significaria a confluência dos anseios sociais do povo alemão.
Para Kelsen, todavia, reservar a defesa da Constituição ao Presidente do
Reich ou ao Parlamento seria inconveniente,
[...] uma vez que justamente nos casos mais
importantes de violação constitucional Parlamento e governo
são partes litigantes, é recomendável convocar para a decisão
da controvérsia uma terceira instância que esteja fora desse
antagonismo e que não participe do exercício do poder que a
Constituição divide essencialmente entre Parlamento e
governo Segundo Luís Roberto Barroso,
[...] a idéia de Estado democrático de direito,
consagrada no art. 1º da Constituição brasileira, é a síntese
histórica de dois conceitos que são próximos, mas não se
confundem: os de constitucionalismo e de democracia.
Constitucionalismo significa, em essência, limitação do poder e
supremacia da lei (Estado de direito, rule of law, Rechtsstaat).
Democracia, por sua vez, em aproximação sumária, traduz-se
em soberania popular e governo da maioria.
O constitucionalismo é a teoria que, baseada em uma constituição rígida,
busca resultados garantísticos, ainda que isso importe em limitação dos demais
poderes, possuindo, como pedra angular,
[...] os direitos fundamentais que, por sua vez,
representam os valores substantivos escolhidos pela
sociedade no momento constituinte – de máxima manifestação
da soberania popular – que garantem o funcionamento da
democracia, isto é, quando os direitos fundamentais impõem
limites materiais aos atos de governo, estão na verdade, a
proteger o povo como um todo e não apenas maiorias
eventuais. E quem está incumbido de proteger estes valores é
o Poder Judiciário, conforme determinação do próprio poder
constituinte.
A democracia procedimental funda-se na defesa do procedimento
democrático, privilegiando os direitos que garantem participação política e
processos deliberativos justos, independentemente do resultado a ser alcançado.
A tensão existente entre o princípio democrático e a jurisdição constitucional
encontra-se, assim, na medida em que o primeiro privilegia a vontade popular,
independentemente dos resultados obtidos, e a segunda defende a prevalência da
norma constitucional, ainda que em detrimento da vontade do povo.
As perguntas que desafiam a doutrina e a jurisprudência
podem ser postas nos termos seguintes: por que um texto
elaborado décadas ou séculos atrás (a Constituição) deveria
limitar as maiorias atuais? E, na mesma linha, por que se
deveria transferir ao Judiciário a competência para examinar a
validade de decisões dos representantes do povo?
Todavia, a guarda da Constituição pelo chefe de estado não garantiria a
imparcialidade, uma vez que “[...] a eleição do chefe de Estado, que se dá
inevitavelmente sob a alta pressão de ações político-partidárias, pode ser um
método democrático de nomeação, mas não lhe garante particularmente a
independência”.
Ademais, conferir legitimidade para a guarda da Constituição ao chefe de
Estado ofenderia o princípio segundo o qual ninguém pode ser juiz em causa
própria, especialmente porque, nos casos mais importantes de violação
constitucional, parlamento e governo são partes litigantes.
Assim, ambos os regimes apresentam inconvenientes, uma vez que a
democracia procedimental não respeita a vontade das minorias, enquanto o
constitucionalismo pode gerar decisões destituídas de legitimidade.
Por outro lado, ambos apresentam qualidades, pois somente no
constitucionalismo podem ser respeitadas as decisões das minorias em face da
possibilidade de decisões contra majoritárias, sendo que na democracia
procedimental respeita- -se a vontade do povo.
A verdade é que,
[...] sobre a jurisdição constitucional já se disse
praticamente tudo, seja para defendê-la, seja para criticá-la.
Para o bem ou para o mal, parece que não podemos viver sem
ela, pelo menos enquanto não descobrirmos nenhuma fórmula
mágica que nos permita juridificar a política sem ao mesmo
tempo, e em certa medida, politizar a justiça.
Embora a tese de Kelsen tenha sido a vencedora, no sentido de a guarda da
Constituição caber a um tribunal constitucional, sendo adotada tanto no Brasil como
na maior parte dos países, é possível compatibilizar a jurisdição constitucional com
a democracia procedimental, bastando que seja observado o princípio da
autolimitação judicial.
Judicialização da política
A judicialização da política pode ser estudada sob diversos aspectos. É
possível afirmar que a própria ideia de constitucionalismo e de previsão de questões
políticas na Constituição permitiriam que o Judiciário acabasse enfrentando
qualquer questão política como sendo uma questão constitucional. Apesar de ser
aparentemente contra os interesses do Parlamento, é possível afirmar que há um
consenso no sentido de que a assunção de novos papéis pelo Judiciário, incluindo
as decisões sobre questões políticas, morais, religiosas,centrais, tanto por parte da
sociedade quanto por parte dos próprios atores políticos, vem sendo aceita pela
sociedade, uma vez que os próprios atores políticos veem o Judiciário como um
fórum apropriado para enfrentar essas questões.
Werneck Vianna afirma que o “boom da litigação” é um fenômeno mundial
que vem ocorrendo nas democracias contemporâneas, especialmente por conta da
distância existente entre representantes e representados, o que, em consequência,
leva os políticos a estimularem os canais de representação por via da legislação
(Vianna; Burgos; Salles, 2007, p. 41).
Não obstante ser um fenômeno atual, o discurso muitas vezes confunde a
ideia de judicialização da política com a ideia genérica de ativismo judicial, tanto que
se tem utilizado o termo de judicialização de megapolítica (ou de macropolítica) para
distingui-lo da judicialização da política genérica.
Ran Hirschl vai apresentar três categorias de judicialização: (i) a expansão do
discurso legal, jargões, regras e procedimentos para a esfera política e para os
fóruns de decisões políticas; (ii) judicialização das políticas públicas por meio do
controle de constitucionalidade ou das revisões dos atos administrativos; (iii)
judicialização da política pura ou da política macro, que seria a transferência às
Cortes de questões de natureza política e de grande importância para a sociedade,
incluindo questões sobre legitimidade do regime político e sobre identidade coletiva
que definem (ou dividem) toda a política (Hirschl, 2006, p. 723).
Em relação à primeira categoria, o autor afirma que a judicialização é inerente
à captura das relações sociais e culturais pelas leis, o que se deve ao aumento da
complexidade e diversidade das modernas sociedades, bem como da expansão de
Estados modernos de bem-estar social, com suas inúmeras agências regulatórias
(Hirschl, 2006, p.724-725).
No âmbito supranacional também se verifica esse fenômeno, na medida em
que se torna necessário adotar normas-padrão (universais) numa era de
globalização econômica. Outro aspecto da judicialização da política é o aumento da
responsabilidade do Judiciário em decidir sobre políticas públicas, especialmente
sobre questões de direitos garantidos constitucionalmente,3 o que acaba por
redefinir os próprios limites dos demais poderes políticos.
Em relação à judicialização da política pura, ou da macropolítica, pode-se
entender a competência dos tribunais para decidir a respeito de questões morais ou
de questões políticas críticas centrais para a sociedade. Ou seja, muitos dilemas
morais e políticos acabam sendo transferidos das esferas políticas ao Judiciário.
Nesse sentido é possível pensar na judicialização da política como
relacionada ao “novo estatuto dos direitos fundamentais e à superação do modelo
de separação dos poderes do Estado, o que provoca uma ampliação dos poderes
de intervenção dos tribunais na arena política” (Verbicaro, 2008, p. 391),
especialmente por meio da participação nos processos de formulação ou
implementação de políticas públicas, conforme se verá no último tópico do presente
artigo. Na tentativa de garantir à comunidade seus direitos fundamentais elencados
na Constituição Federal, a política se judicializa.
Débora Maciel e Andrei Koerner explicam que a judicialização da política
“requer que operadores da lei prefiram participar da policy-making a deixá-la ao
critério de políticos e administradores e, em sua dinâmica, ela própria implicaria um
papel político mais positivo da decisão judicial do que aquele envolvido em uma não
decisão” (Maciel; Koerner, 2002, p. 114).
No Brasil, o processo de redemocratização acabou por produzir enorme
impacto no Poder Judiciário. Arantes explica que: “de um lado, a demanda por
justiça, em grande parte represada nos anos de autoritarismo, inundou o Poder
Judiciário com o fim dos constrangimentos impostos pelo regime militar ao seu livre
funcionamento”. Por outro lado, a adoção de um Estado Democrático de Direito
gerou a “necessidade de juízes e árbitros legítimos” virem a decidir sobre conflitos
entre sociedade e governo e entre os poderes do próprio Estado. Esse papel,
segundo o autor, foi atribuído em grande medida ao Poder Judiciário (Arantes, 1999,
p. 83).
Ainda, comparando o Brasil às democracias contemporâneas, Arantes
entende que o mesmo passa por praticamente as mesmas causas de judicialização
da política de outros países:
First,political democracy was established in the 1980s
followed by the approval of a new Constitution in 1988 that set
out an extensive charter of rights. Second,an increasingly
greater number of interest groups within society are demanding
judicial solutions to collective conflicts.Third, the political
system is characterized by fragile and even minority coalitions
supporting the government of the day, while the opposition
uses the judiciary to fight government policies. Lastly, the
constitutional model delegates to the judiciary and to the
Ministério Público (Public Ministry) the task of protecting both
individual rights and interests,as well as collective and social
rights (Arantes, 2006, p. 231).
Loiane PradoVerbicaro aponta algumas condições como facilitadoras do
processo de judicialização da política ocorrido no Brasil, dentre as quais, destacamse
especialmente: (i) a promulgação da Constituição de 1988; (ii) a universalização
do acesso à justiça; (iii) a existência de uma Constituição com textura aberta; (iv) a
decodificação do direito, a crise do formalismo e do positivismo jurídico; (v) a
ampliação do espaço reservado ao STF; (vi) a hipertrofia legislativa; e (vii) a crise do
Parlamento brasileiro (Verbicaro, 2008, p. 390).
Veja-se que a abertura das normas de direitos fundamentais exigem um novo
papel do Poder Judiciário, um papel que se assemelha ao que esse Poder tem nos
sistemas de tradição do common law, no qual é através do seu papel criador, de
judge-made-law, que se densifica e se concretiza as normas previstas na
Constituição.
O caráter aberto e abstrato das normas constitucionais modifica o paradigma
positivista de uma suposta previsão da norma a ser adotada ao caso concreto,
passando os países que adotaram o constitucionalismo como forma de proteção
dos direitos fundamentais contra as arbitrariedades estatais a se aproximar do
common law, especialmente no que diz respeito à jurisdição constitucional.
Como não há possibilidade de se apontar previamente qual o direito aplicado
ao caso, caberá ao Judiciário densificar e dar significado a esses direitos, de acordo
com o contexto histórico, social, político, moral e jurídico da sociedade naquele
determinado momento. A norma, portanto, não existe no texto, mas apenas no caso
concreto.
Esse novo papel dos Tribunais Constitucionais, especialmente com a
possibilidade de dar conteúdo aos direitos humanos, reflete em grande expansão de
sua autoridade, o que se dará por meio do judicial review.
Além disso, é possível constatar-se que, no Brasil, a Justiça se aproximou da
população por meio de Juizados de Pequenas Causas, nos quais o acesso
independe de representação por advogado. Legislações especiais de proteção de
minorias, como Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do
Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, levaram a um processo de
substituição do Estado pelo Judiciário, tornando o juiz protagonista nas decisões
sobre questões sociais, inclusive as que envolvem políticas públicas (Vianna;
Burgos; Salles, 2007, p. 41).
Aliado a isso, o sistema de controle de constitucionalidade misto tem no
controle difuso a possibilidade de minorias políticas exercitarem seu poder de veto
contra leis e atos administrativos editados pelos Poderes Legislativo e Executivo,
invocando a Constituição de 1988, podendo-se afirmar que o controle de
constitucionalidade é um dos maiores recursos disponíveis para as minorias
políticas contra as decisões políticas majoritárias (Arantes, 2006, p. 241). Em
sentido contrário, Antonio Moreira Maués e Anelice Belém Leitão (2004, p. 48), ao
analisarem as ADIs dos Partidos Políticos no Supremo Tribunal Federal, concluem
que estas “são mais bem interpretadas como ações em defesa da Constituição” do
que efetivamente tentativas de desrespeito à regra da maioria, ou seja, levam à
Jurisdição Constitucional a possibilidade de limitar possíveis violações da
Constituição cometidas pela maioria política.
Tal afirmativa encontra respaldo em Ernani Rodrigues de Carvalho (2004), ao
constatar que “os grupos de interesse passam a considerar e/ou utilizar a
possibilidade de veto dos tribunais na realização de seus objetivos”
Por outro lado, pode-se verificar decisões do Supremo Tribunal Federal sobre
questões políticas no que diz respeito à fidelização partidária, políticas públicas de
saúde, desarmamento, pesquisa em células-tronco, mensalão, etc.5 Algumas
dessas questões chegaram ao Supremo por meio de ações perpetradas por
partidos políticos e outras por associações representativas de direitos de minorias,
além daquelas que foram impetradas individualmente para garantia de direitos
sociais.
Esse aumento de deferência do Legislativo para o Judiciário aconteceu em
várias nações ao redor do mundo, transformando as Supremas Cortes no mais
importante corpo de tomada de decisão política.
Em decorrência desse movimento, o Judiciário brasileiro tem sofrido severas
críticas, assim como sofreu a Suprema Corte americana no início do século XX, no
sentido de que não é órgão competente para tratar de questões políticas por não ser
eleito pelo povo e, portanto, não teria legitimidade democrática para manifestar-se
sobre tais questões.
Muito embora este artigo adote como pressuposto a legitimidade democrática
do judicial review, deve ser colocado que não se desconhece as críticas que vêm
sendo feitas a esse instituto. No tocante a essas críticas, merece destaque a
posição de Jeremy Waldron. Uma das preocupações centrais desse autor é
combater a ideia, bastante difundida, de que o procedimento legislativo pode dar
origem à tirania da maioria e que essa maioria, constantemente, viola ou constrange
o exercício de direitos individuais ou das minorias – e daí se originaria a
necessidade de determinados limites ao procedimento democrático majoritário
(Waldron, 1999a, p. 11). Considerando que os membros de uma comunidade
política entram em desacordo não somente em relação aos direitos e seus
conteúdos, mas também em relação a questões de justiça social e políticas
públicas, seria razoável concluir que a própria concepção das minorias quanto aos
seus direitos (ou violação destes) pode gerar desacordo. Outrossim, do fato de que
esses direitos podem ser violados pela maioria não decorre, necessariamente, que
a única maneira de evitar que isso aconteça seja controlando a vontade da maioria
por meio do judicial review.
No ensaio The Core of the Case Against Judicial Review,Waldron (2006, p.
1346) enuncia que a crítica ao judicial review pode ser levada a efeito mediante dois
argumentos centrais: (i) não existe nenhuma razão para supor que os direitos
estariam melhor protegidos pelo exercício do judicial review do que por legislaturas
democráticas; e (ii) não obstante os resultados que o judicial review possa gerar,
sob o ponto de vista da democracia ele é ilegítimo. A análise que o autor faz desse
problema não está centrada em decisões particulares obtidas dentro de um sistema
político e também não se prende ao contexto histórico que dá origem ao instituto,
sua intenção foi formular uma crítica geral ao instituto. O que ele pretende identificar
como argumento central da sua crítica ao judicial review “é que ele é independente
de suas manifestações históricas e questões sobre seus efeitos particulares – as
decisões (boas ou más) que ele tenha formulado, as deficiências ou afirmações que
ele tenha transmitido” (Waldron, 2006, p. 1346-1351).
Em que pesem essas críticas ao “governo de juízes”, é fato o protagonismo
do Judiciário, sendo essas críticas “insuficientes para reprimir um processo que
parece ter se tornado irreversível” (Chevallier, 2009, p. 134).
Esse protagonismo do Judiciário é muitas vezes chamado de ativismo
judicial, o qual deve ser entendido não quanto uma Corte é ocupada mas quanto
seus juízes estão dispostos a desenvolver o direito. As críticas e a controvérsia a
respeito do ativismo judicial se dão especialmente por duas razões. A primeira diz
respeito ao caráter contra majoritário dos juízes, que não teriam competência para
elaborar novo direito, pois não foram eleitos pelo povo. A segunda questão é, em se
aceitando que os juízes podem desenvolver a lei, quais seriam os critérios para
definir que o desenvolvimento seria adequado (Dickson, 2007, p. 367).
ChristopherWolfe traz outra concepção do que ele chama de ativismo judicial
convencional, como sendo aquele em que os juízes devem decidir os casos que
lhes são apresentados e não evitá-los, de modo a realizar a justiça, especialmente
protegendo a dignidade da pessoa humana pela expansão da igualdade e da
liberdade. Os juízes “ativistas” devem se comprometer a garantir soluções para os
problemas sociais, principalmente utilizando-se de seu poder para dar conteúdo aos
direitos e às garantias fundamentais que venham a realizar a justiça social (Wolfe,
1997, p. 2). Ativistas não no sentido pragmático de ignorar a Constituição ou os
precedentes que lhe interpretaram, para impor seu próprio ponto de vista, mas no
sentido de que devem estar eles preparados para responder às questões de
moralidade política que lhe são apresentadas.
Como se viu até aqui, é difícil encontrar uma única causa para justificar a
judicialização da política. Não obstante, é certo que muitas das questões políticas
que são transferidas para osTribunais o são por partidos políticos ou por grupos de
interesses e, portanto, isso não pode ser visto como um fenômeno jurídico ou como
um fenômeno de usurpação de funções de um poder sobre o outro, mas como um
fenômeno político.
O que se verifica é que o Poder Judiciário tem sido utilizado como outra
arena política, em que as minorias políticas no âmbito de discussão deliberativa
parlamentar têm a possibilidade de ter protegidos seus direitos.
Mesmo no contexto americano, KeithWhittington explica que a manutenção
da autoridade judicial para interpretar a Constituição e usar ativamente o poder de
controle constitucional das leis é um projeto político avançado. Para que se sustente
o ativismo judicial, no sentido de declaração de inconstitucionalidade do ato
normativo do Legislativo ou do Executivo, as Cortes devem operar numa política de
desenvolvimento favorável. Juízes devem achar razões que levantem objeções aos
atos do governo, e políticos eleitos devem achar razões para parar de sancionar ou
criticar juízes que levantam tais objeções (Whittington, 2005, p. 583).
Whittington (2005, p. 584) ressalta que as maiorias políticas podem
efetivamente delegar um número de questões para o Judiciário porque as Cortes
podem ter mais capacidade de agir efetivamente ou com mais confiança do que os
políticos eleito, agindo diretamente .Tal ponto de vista é corroborado por
LuizWerneckVianna, quando afirma que as ADIs no governo Fernando Henrique
Cardoso (FHC) acabaram por funcionar em instrumentos em favor das minorias
políticas, que buscaram no Judiciário um outro espaço de luta democrática para
afirmar direitos que não conseguiram proteção majoritária no Parlamento (Vianna;
Burgos; Salles, 2007, p. 68). Ou seja, o Poder Judiciário assume, nesse contexto,
um importante papel, na medida em que representa um espaço público democrático
realizador dos direitos fundamentais protegidos na Constituição brasileira.
No mesmo sentido, afirma Howard Gillman (2002, p. 511), ao estudar o
período de 1875 a 1891 nos Estados Unidos, que o aumento do poder da jurisdição
das Cortes federais durante esse período foi devido a esforços do Partido
Republicano de promover uma política econômica nacional, durante um período no
qual o tema estava vulnerável em relação aos partidos políticos.
O exercício do controle de constitucionalidade por um Judiciário ativo e
independente, apesar de ser visto aparentemente como contra o interesse dos
atuais políticos, que presumivelmente preferem exercer o poder sem interferência é,
ao contrário, apoiado pelos detentores do poder. Quando políticos eleitos não
conseguem implementar sua própria agenda política, eles devem favorecer um ativo
controle de constitucionalidade por um Judiciário simpático a superar os obstáculos
e romper com o statu quo. Na visão de Whittington (2005, p. 583), isso justificaria o
porquê de os políticos eleitos toleram um Judiciário ativista.
No Brasil, ao fazer um aprofundado estudo acerca da judicialização da
política no país, WerneckVianna ressalta que, além das ADIs funcionarem como
instrumento de defesa das minorias, também funcionam como um recurso
institucional estratégico de governo (Vianna et al., 2007, p. 44). Das ADIs propostas
no período de 1988 a 2005, 60% trataram do tema de Administração Pública, 12,6%
trataram sobre Política Tributária, e 11,6% trataram sobre Regulação da Sociedade
Civil (Vianna et al., 2007, p. 50).
Por outro lado, verificou-se que das ADIs propostas por governadores, 87,1%
foram propostas contra leis estaduais, demonstrando que os governos, quando não
ganham na arena política, buscam o Judiciário para garantir suas pretensões
(Vianna et al., 2007, p. 54).
O alto índice de litigação contra normas dos Legislativos estaduais se
justifica, segundo o autor, porque reflete que o Executivo não detém maioria nas
assembleias estaduais, bem como porque “essas instâncias de poder, expostas às
pressões de grupos de interesses particularistas, eventualmente produzem uma
legislação casuística e sem escopo universalista” (Vianna et al., 2007, p. 50),
acabando o STF por desempenhar o papel de um conselho de Estado.
Por meio de dados estatísticos concretos, o autor demonstra que as ADIs têm
sido utilizadas como instrumento de afirmação de interesses minoritários, tanto que
as ADIns propostas por partidos políticos, no período do governo FHC em sua
maioria foram propostas por partidos de esquerda, tendo caído a atuação desses
partidos significativamente após o governo Lula. A análise das ADIs, segundo
Vianna, “aponta o fato de elas se afirmarem como uma via complementar de disputa
política e de exercício da oposição, mais utilizada pela esquerda, mas igualmente
mobilizada pelo centro e pela direita” (Vianna et al., 2007, p. 67- 69).
Veja-se, ainda, que questões políticas importantes como a fidelização
partidária foram remetidas ao STF justamente pelos Partidos Políticos (PPS, PSDB
e DEM),10 o que demonstra, mais uma vez, que a judicialização da política com a
consequente manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre questões políticas
se faz por vontade dos próprios partidos políticos e, portanto, como um fenômeno
político.
O que se percebe nesse novo contexto político-jurídico criado no pós-guerra
com o estabelecimento da supremacia dos direitos humanos, seja por constituições
escritas ou não, é que esse movimento se dá junto com a expansão do judicial
review em diversos países.
Essa expansão amplia o espaço público de debate sobre questões morais e
políticas na sociedade, que ganha uma nova arena, o Poder Judiciário, o qual
assume papel protagonista na concretização dos direitos fundamentais previstos na
Constituição.
Verifica-se, ainda, que a atuação do Judiciário é legítima, na medida em que,
provocada por atores políticos, também legitima o próprio documento constitucional.
O grande desafio está em superar as barreiras colocadas à atuação do
Judiciário pela tradição do civil law, que pretendia limitar a atuação do juiz no texto
normativo. A revolução dos direitos humanos e a judicialização da política
expandem a atividade judicial não só no sentido quantitativo, mas também porque
assume esse poder o papel de concretizar direitos que só terão significado no caso
concreto, o que os aproxima do papel do judge-made-law presente nos sistemas de
tradição do common law.
Verificar-se-á no próximo tópico a teoria da autorrestrição judicial, que busca
limitar o papel do Judiciário na tomada de decisões que envolvem questões
políticas.
Teoria da auto restrição judicial
A doutrina que se preocupa em limitar o papel e as funções da jurisdição
constitucional, por entender que o exercício do judicial review “importa sempre em
uma afronta à vontade da maioria, representada pelo Parlamento” (Mello, 2004, p.
205), é conhecida como doutrina da self-restraint ou doutrina da autocontenção
judicial.
Conforme Canotilho (2000, p.1224), o princípio da autolimitação judicial
consiste no fato de que “os juízes devem autolimitar-se à decisão de questões
jurisdicionais e negar a justiciabilidade das questões políticas”, o que significaria
dizer que certas questões políticas não estariam sujeitas a um controle jurisdicional.
Numa concepção procedimental de Constituição, deve-se ter confiança na
legitimidade ética dos procedimentos discursivos de deliberação e decisão de
questões públicas, o que justificaria a limitação da jurisdição constitucional sobre os
assuntos deliberados. Ou seja, numa concepção procedimental, a jurisdição
constitucional deve estar limitada a proteger os direitos de participação política que
garantam a higidez do processo democrático
O problema que se enfrenta é a definição de quais direitos fundamentais, que
protegem o processo democrático, poderiam ser tutelados pela jurisdição
constitucional, o que abriria um rol maior de direitos que serão objeto de proteção e
de valoração substantiva pelo Judiciário.
Por outro lado, a concepção substantiva de Constituição não defende uma
autolimitação judicial mas, ao contrário, defende um ativismo judicial que determine
e proteja os valores substantivos calcados na Constituição, principalmente no que
diz respeito aos direitos fundamentais.
Cláudio Ari Mello constata que existem vários métodos de autorrestrição
judicial: (i) os limites processuais, por meio de “instituição de barreiras formais nos
processos judiciais da jurisdição constitucional” (2004, p. 218); (ii) os limites
hermenêuticos, em que prevalece o princípio da presunção de constitucionalidade
das leis, “sempre que for possível reconhecer nela uma compreensão adequada ao
sentido normativo da constituição” (2004, p. 220); (iii) os limites funcionais que se
desdobram em discricionariedade administrativa e discricionariedade legislativa ou
liberdade de conformação do legislador; e (iv) os limites temáticos, consistentes na
doutrina da não justiciabilidade das questões políticas.
Christopher Wolfe (1994, p. 101ss), de forma clara, aponta que os limites
para um judicial review moderado seriam os seguintes: (i) os limites inerentes ao
Poder Judiciário; (ii) a deferência legislativa; e (iii) a doutrina das questões políticas.
Wolfe cita que um dos limites inerentes à natureza do Poder Judiciário é o
fato de que o judicial review deveria ser visto mais como um problema de
interpretação (associado a julgamento por Hamilton) do que legislação (associada à
intenção). O papel dos juízes não seria determinar o que é melhor para o país, ou
qual regra geral é melhor para a nação e para seus cidadãos, quando se depara
com um problema específico de política. Esse autor também entende não ser tarefa
do juiz valorar se uma lei é prudente ou justa. No exercício do judicial review,
caberia ao juiz determinar não se a lei é boa ou prudente, mas se é constitucional
ou não (Wolfe, 1994, p. 101).
Outro limite natural ao Poder Judiciário consiste no fato de que suas decisões
só produzem eficácia no caso concreto, diferente das leis que são pensadas e
aplicadas para toda a sociedade (Wolfe, 1994, p. 102).
Wolfe (1994, p. 103) destaca, também, a diferença feita por Marshall em
Marbury v.Madison entre atos judiciais e atos não judiciais, isto é,a questão sobre se
alguém tem um direito é, por sua natureza, uma questão judicial, e deve ser tratada
pela autoridade judicial. Não obstante, Marshall reprovava a interferência do
Judiciário em atos políticos ou discricionários do Poder Executivo.
Afora isso, Wolfe (1994, p. 103-104) salienta que o judicial review é um poder
derivado do poder de decidir casos que chegam ao Judiciário, podendo uma
questão constitucional nunca chegar ao Judiciário e, portanto, nunca ser apreciada
por este Poder.
Por outro lado, a defesa clássica do judicial review sempre foi fundamentada
no fato de que o mesmo não implicaria na superioridade dos juízes em relação aos
legisladores, mas na superioridade do desejo do povo – plasmado na Constituição –
sobre ambos. Entretanto, essa afirmativa só é verdadeira se o judicial review se
restringir à interpretação ou à determinação da intenção do povo prevista na
Constituição, não podendo o juiz legislar ou defender seus próprios anseios.
Se houver erro na declaração de inconstitucionalidade de uma lei, poder-se-ia
ter o Judiciário legislando, eis que, mesmo de boa-fé, estaria a extrapolar os
poderes do judicial review, razão por que o princípio da deferência ao legislativo
significa que o judicial review não deve ser utilizado em caso de dúvidas.
Em caso de dúvidas sobre a própria interpretação da Constituição, os juízes
deveriam submeter a questão ao Legislativo, para que este emita sua opinião sobre
a constitucionalidade da lei (Wolfe, 1994, p. 104). Mas não é qualquer dúvida que
ensejaria essa deferência legislativa, sendo necessário se estar frente a uma dúvida
que persiste mesmo após certo esforço interpretativo de tentar compatibilizar a lei à
Constituição.
Ressalte-se que nenhum dos autores que defende a autocontenção judicial
enfrenta como isso seria feito na prática, nem se seria viável, por exemplo,
suspender o julgamento judicial e submeter a questão ao Legislativo (tal como um
incidente “substantivo”), para se decidir a respeito do conteúdo substantivo
constitucional, ou quem sabe submeter a questão a um plebiscito. Não se traz como
esse tipo de autocontenção pode se realizar na prática.
Outro componente, segundo Christopher Wolfe (1994, p. 106), de um judicial
review moderado, consistiria na doutrina das questões políticas. Desde que a
revisão judicial seja um poder estritamente judicial, não deveria ser aplicada para
rever atos discricionários de outros poderes, sendo, portanto, uma decorrência
lógica do princípio da separação de poderes.
No que diz respeito à discricionariedade legislativa ou liberdade de
conformação do legislador, e mesmo na questão de não justiciabilidade de questões
políticas, em alguns casos, a Suprema Corte americana opta por não se manifestar
sobre o assunto.
Quando se trata do princípio federativo há, em geral, uma deferência à
manifestação pelos Estados. Do mesmo modo, a Suprema Corte tem tido
permanentemente “uma orientação no sentido de prestar grande deferência às
decisões tomadas pelo presidente ou pelo Congresso, quando estão em jogo
problemas de segurança, ou às orientações das organizações militares” (Baracho
Júnior, 2003, p. 329-330).
Ainda, sobre a matéria de homossexuais nas Forças Armadas, “a Suprema
Corte se recusa a apreciar a política denominada do not ask, do not tell, presente
nas organizações militares norte-americanas” (Baracho Júnior, 2003, p. 330),
sustentando que os homossexuais não são considerados uma minoria isolada e
prejudicada e demonstrando, assim, a ampla deferência às decisões militares.
Não obstante, a própria história do judicial review demonstra que a doutrina
do judicial self-restraint não se solidificou, posto a história demonstrar uma
verdadeira expansão dos poderes do Judiciário, inclusive em matérias de políticas
públicas e sociais, como visto na sessão anterior.
Ratificando o supraexposto, Canotilho entende que “a doutrina das questões
políticas” ou da não justiciabilidade das questões políticas não pode significar a
existência de questões constitucionais isentas de controle, não devendo o Tribunal
Constitucional recusar a apreciação de uma matéria ou declinar de sua competência
apenas por se tratar de questão política. Afirma, ainda, que o problema não consiste
em fazer política por meio do controle de constitucionalidade das leis, mas em
apreciar a constitucionalidade da política, o que deve ser feito por meio de
parâmetros jurídico-materiais presentes na própria Constituição (Canotilho, 2000, p.
1224).
Uma posição interessante de limites ao controle de questões políticas por
parte do Judiciário é afirmada pela doutrina argentina e pela Suprema Corte desse
país, no sentido de que osTribunais não podem se manifestar sobre matérias que
são naturalmente privativas dos outros poderes. Deve-se verificar a repartição de
competências estabelecidas na Constituição, não se admitindo que o Judiciário
controle questões relativas a matérias exclusivas ou privativas de outros poderes
(Haro, 2008).
Não obstante tal posicionamento dos defensores de uma autolimitação do
Judiciário, entendeu a Suprema Corte da Argentina que é tarefa dos Tribunais
interpretar o alcance das normas que concedem competências, bem como verificar
se os poderes agiram nos limites de sua competência.
Haro apresenta crítica a essa doutrina, que também buscaria a autorrestrição
do Judiciário, no sentido de que seria um absurdo pensar que faculdades privativas
seriam o mesmo que competências não passíveis de revisão judicial. Ou seja, terseia
que aceitar que matérias relacionadas à competência privativa, como
aprovação de lei pelo Congresso ou veto de projeto de lei pelo presidente ou, ainda,
a edição de medida provisória pelo presidente, estariam fora do controle de revisão
do Poder Judiciário, mesmo quando fossem abertamente violadores da ordem
constitucional ou legal (Haro, 2008).
No Brasil, em geral, encontra-se uma “resistência ao controle judicial do
mérito dos atos do Poder Público, aos quais se reserva um amplo espaço de
atuação autônoma, discricionária” (Krell, 2002, p. 87), que não se sujeitam ao
controle de constitucionalidade pelo Judiciário. Como exemplo de atitudes
exageradas de autorrestrição judicial tem-se a recusa do Supremo Tribunal Federal
em “controlar os pressupostos constitucionais da edição de Medidas Provisórias
pelo Governo Federal (art. 62, CF)”, bem como a negativa de criar norma in
concreto nos casos de mandado de injunção (Krell, 2002, p. 87-88).
Não obstante os casos supramencionados, é possível afirmar que cada vez
mais o Judiciário brasileiro tem assumido a tomada de decisões políticas em
questões centrais para a sociedade. E mais, a teoria da autorrestrição judicial é
difícil de ser implantada também porque, muitas vezes, os próprios atores políticos
preferem que as decisões políticas sejam tomadas pelos tribunais. Ou seja, os
tribunais ou cortes constitucionais acabam funcionando como trunfos para minorias
políticas que não conseguem aprovação dos seus objetivos na arena política
(Whittington, 2005, p. 583).
Passa-se, agora, a analisar de que forma o Judiciário brasileiro,
especialmente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, vem
funcionando como um aliado da política, em particular das minorias políticas, no
controle de constitucionalidade das políticas públicas.
Controle judicial de políticas públicas
Para enfrentar a justiciabilidade de políticas públicas, é necessário analisar
previamente a justiciabilidade das questões políticas. A doutrina vem tentando
definir o que são questões políticas, muitas vezes chegando a definições
redundantes, como sendo questões políticas aquelas que não são jurídicas ou que
não são judiciais. Em alguns casos, os estudiosos acabam aceitando que questão
política é aquela que os juízes dizem que é.
Ronald Dworkin é um dos poucos juristas que tenta definir o que são
questões políticas, diferenciando-as de princípios, no sentido de que caberia
aosTribunais apenas decisões baseadas em princípios:
Los argumentos políticos justifican una decisión política
demostrando que favorece o protege alguna meta colectiva de
la comunidad en cuanto todo. El argumento en favor de un
subsidio para los fabricantes de aviones,que afirma que con él
se protegerá la defensa nacional, es un argumento político.
Los argumentos de principio justifican una decisión política
demostrando que tal decisión respeta o asegura algún
derecho, individual o del grupo. El argumento a favor de las
leyes que se oponen a la discriminación (racial en los Estados
Unidos),y que sostiene que una minoría tiene derecho a igual
consideración y respeto, es un argumento de principio
(Dworkin, 2002, p. 148).
Dessa definição poder-se-ia deduzir que o conceito de política pública (policy)
diz respeito a metas coletivas, objetivos sociais que demandam programas de ação
pelos Poderes Públicos, comum num Estado que se pretende social. Já os
princípios estariam mais relacionados a proteções de direitos individuais.
Pode-se, então, relacionar as políticas públicas aos programas de ações
governamentais que buscam a realização de metas coletivas como um todo,
especialmente na área social (pleno emprego, saúde pública, moradia, etc.).
Fabio Konder Comparato, por sua vez, esquadrinhando o que seja política,
parte de uma constatação negativa, ou seja, política “não é uma norma nem um ato,
ela se distingue nitidamente dos elementos da realidade jurídica, sobre os quais os
juristas desenvolveram a maior parte de suas reflexões, desde os primórdios da
iurisprudentia romana” (Comparato, 1998, p. 44). O autor ressalta a importância
dessa constatação, uma vez que, originariamente, o controle de constitucionalidade
se dá apenas em relação a atos e normas, e classifica a política como uma
atividade, ou seja, “um conjunto organizado de normas e atos tendentes à
realização de um objetivo determinado” (Comparato, 1998, p. 44).
Maria Paula Dallari Bucci, por sua vez, elabora a seguinte definição para
política pública:
Política pública é o programa de ação governamental
que resulta de um processo ou conjunto de processos
juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de
planejamento, processo de governo, processo orçamentário,
processo legislativo, processo administrativo, processo judicial
– visando coordenar os meios à disposição do Estado e as
atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente
relevantes e politicamente determinados. Como tipo ideal, a
política pública deve visar a realização de objetivos definidos,
expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios
necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que
se espera o atingimento dos resultados (Bucci, 2006, p. 39).
Também não se pode descurar que é por meio de políticas públicas coletivas
que a Constituição brasileira pretende que sejam realizados e garantidos os direitos
fundamentais sociais. Por óbvio, são direitos que dizem respeito a toda a sociedade,
considerada em sua forma coletiva e não apenas de garantias de direitos
individuais, e por isso a necessidade de políticas macro para sua realização, dandose
conta das necessidades do povo, bem como da capacidade do Estado.
Rodolfo de Camargo Mancuso, por sua vez, define política pública como
sendo uma“conduta comissiva ou omissiva daAdministração Pública, em sentido
largo, voltada à consecução de programa ou meta previsto em norma constitucional
ou legal, sujeitando-se ao controle jurisdicional amplo e EXAURIENTE,
especialmente no tocante à eficiência dos meios empregados e à avaliação dos
resultados alcançados” (Mancuso, 2001, p. 730-731).
Entretanto, o que se tem observado é que, a despeito da ausência de
recursos orçamentários suficientes, o Estado estaria desobrigado de realizar e
planejar políticas públicas para garantia dos direitos fundamentais sociais. E
também que tal questão não poderia ser submetida ao controle de
constitucionalidade pelo Poder Judiciário, pois tratar-se-ia de questão política,
reservada aos poderes eleitos pelo povo, e ainda, sob pena de violação ao princípio
da separação de poderes.
Explica-se: o princípio da “reserva do possível” vem funcionando como um
óbice à legitimação do Judiciário na realização dos direitos fundamentais sociais,
negando, alguns autores, “de maneira categórica a competência dos juízes (‘não
legitimados pelo voto’) a dispor sobre medidas de ‘políticas sociais que exigem
gastos orçamentários’” (Krell, 2002, p. 52). Ou seja, quando se trata da realização
dos direitos fundamentais sociais pelo Judiciário, o mesmo tem questionada sua
legitimidade democrática uma vez que “a concretização de direitos sociais implicaria
a tomada de opções políticas em cenários de escassez de recursos” (Souza Neto,
2003, p. 44), o que levaria à conclusão de que a tomada de políticas públicas não
poderia ser feita por um poder não eleito, mas tão somente pelo Executivo e
Legislativo que, por sua vez,refletiriam a vontade da maioria.
Não perdendo de vista a disparidade social presente no Brasil, onde a grande
maioria dos direitos sociais está longe de ser usufruída pela população, deve-se
questionar quem, então, tem legitimidade para “definir o que seja‘o possível’ na área
das prestações sociais básicas, em face da composição distorcida dos orçamentos
dos diferentes entes federativos” (Krell, 2002, p. 53), principalmente quando os
recursos não foram corretamente destinados.
Ora, a partir do momento em que a Constituição estabelece que as políticas
públicas são os instrumentos adequados de realização dos direitos fundamentais,
por certo que se trata de matéria constitucional sujeita ao controle do Judiciário.
Pensar o contrário seria o mesmo que o retorno ao pensamento de que a
Constituição é apenas um documento político desprovido de normatividade, algo
inaceitável num Estado que se pretende Constitucional e Democrático de Direito.
Primeiro, deve-se ressaltar que não se está a defender que o Judiciário
intervenha em políticas públicas orçamentárias para a realização dos direitos
sociais. É certo que cabe aos poderes Executivo e Legislativo dispor sobre políticas
públicas. O que se defende é que – na inércia desses poderes –, é legítimo que o
Judiciário atue quando chamado, principalmente quando se tratar de controle difuso,
em que os próprios destinatários dos direitos vão reivindicar que os mesmos sejam
realizados.
Veja-se, a respeito, a posição de Cláudio Pereira de Souza Neto:
A questão central é a seguinte: se considerarmos que
certos direitos sociais são condições procedimentais da
democracia – como fazem, p.ex., Habermas, Gutmann e
Thompson –, então o Judiciário, como seu guardião, possui
também o dever de concretizá-los, sobretudo quanto tem lugar
a inércia dos demais ramos do estado na realização dessa
tarefa. Note-se bem: se o Poder Judiciário tem legitimidade
para invalidar normas produzidas pelo Poder Legislativo, mais
facilmente pode se afirmar que é igualmente legítimo para agir
diante da inércia dos demais poderes, quando essa inércia
implicar um óbice ao funcionamento regular da vida
democrática.Vale dizer: a concretização judicial de direitos
sociais fundamentais, independentemente de mediação
legislativa, é um minus em relação ao controle de
constitucionalidade (Souza Neto, 2003, p. 45).
Além disso, para que se tenha um eficaz controle de pesos e contrapesos
dos poderes Executivo e Legislativo, é necessário também um crescimento dos
papéis do Poder Judiciário. Se mantido o princípio da estrita separação de poderes,
podese ter – ou manter – um Judiciário “perigosamente débil e confinado, em
essência, aos conflitos privados” (Cappelletti, 1999, p. 53). Para Cappelletti, o ideal
de rígida separação de poderes acaba por levar “a existência de um legislativo
totalmente não controlado, como de um executivo também praticamente não
controlado” (1999, p. 53).18 Isto, por sua vez, significou períodos de perigo na
história mundial, nos quais “o poder era concentrado nas assembleias legislativas e
grupos políticos que as dominavam” (Cappelletti, 1999, p. 53), como ocorrido na
Itália pré-fascista ou na Alemanha deWeimar.
Do mesmo modo, é preciso trazer aqui as palavras de José Reinaldo de Lima
Lopes quando afirma que é necessário compreender que o Estado democrático
garante direitos sociais mínimos, mas também garante reformas sociais, como
“condição de possibilidade e de eficácia do Estado de Direito”, de modo que “não se
abra um fosso insuperável de vantagens e oportunidades distintas: são estas
condições de miséria que desestabilizam as democracias” (Lopes, 1994, p.
263).Assim, cabe ao Judiciário não só garantir o statu quo, protegendo o direito
adquirido, como promover as reformas sociais ao implementar as normas de direitos
fundamentais relacionadas à proteção do consumidor, defesa do meio ambiente,
direito à saúde, etc.
Por outro lado, deve-se rechaçar “o condicionamento da realização de
direitos econômicos, sociais e culturais à existência de ‘caixas cheios’ do Estado”
(Krell, 2002, p. 54), uma vez que isso significaria reduzir a eficácia desses direitos a
zero (Baracho Júnior, 2003, p. 343).
É verdade que nem todos os direitos sociais têm a mesma densidade
normativa. Veja-se, por exemplo, o direito ao pleno emprego ou o direito à moradia,
os quais devem ser realizados por meio de políticas públicas. Isso, por sua vez,
acaba por dificultar a concretização daqueles direitos pelo Poder Judiciário, pois
mesmo nos países mais desenvolvidos não se pode assegurar que todo cidadão
tenha emprego, pois é inevitável a existência de um certo nível de desemprego
(Sunstein, 2004, p. 210).
Destarte, apesar de ser efetivamente um problema de política pública a
alocação de recursos para determinados projetos que buscam a implementação de
direitos sociais, isso não significa dizer que o Judiciário não tem nenhum papel na
realização desses direitos. Veja-se, por exemplo, o direito à saúde e à educação:
eles possuem perspectivas que permitem sua adequada realização, razão porque “a
prestação concreta de serviços públicos precários e insuficientes, por parte dos
municípios, dos estados e da União, deveria ser compelida e corrigida por parte dos
tribunais” (Krell, 2002, p. 56).
Também é interessante mencionar duas decisões da Corte Constitucional
SulAfricana a respeito da posição tomada pelo Judiciário na realização dos direitos
fundamentais sociais. Aquelas demonstram que, mesmo com recursos escassos, é
possível a maximização desses direitos. Ou seja, “a Corte não disse que cada
pessoa na África do Sul tinha um direito individual a abrigo decente ou a
tratamentos de saúde”, mas afirmou que o governo é obrigado a levar os dois
direitos a sério e a adotar programas que buscam assegurá-los (Sunstein, 2004, p.
211-212).
Assim, a Corte Constitucional Sul-africana assumiu que o Judiciário pode e
deve proteger os direitos econômicos e sociais e, por sua vez, definiu que cabe ao
governo promover políticas para proteção desses direitos. Ou seja, não reconheceu
o direito individual à moradia ou à saúde, mas reconheceu o direito dos autores de
terse medidas legislativas e executivas necessárias para se alcançar a progressiva
realização desses direitos.
Em outras palavras, para a Corte Constitucional Sul-africana a Constituição
não criou um direito a abrigo ou moradia imediata à ação, mas criou um direito a um
coerente e coordenado programa designado para cumprir obrigações
constitucionais. A obrigação do Estado seria então de criar um programa que
incluísse medidas razoáveis especificamente designadas para garantir algum direito
a moradia (Sunstein, 2006).
No Brasil, podemos trazer como exemplo de controle de políticas públicas por
parte do Judiciário a decisão tomada na ADPF 45, na qual o Supremo Tribunal
Federal foi provocado a manifestar-se sobre cumprimento de políticas públicas. No
caso em tela, a ação versou sobre a inconstitucionalidade do veto do Presidente da
República sobre o § 2º do art. 55 do Projeto de Lei que se converteu na Lei
10707/2003 – Lei de Diretrizes Orçamentárias –, que violaria a Emenda
Constitucional 29/2000 (que estabelece recursos financeiros mínimos para o
financiamento das ações e serviços da saúde).
Veja-se a ementa da decisão:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO
DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA
HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL.
DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL
ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INOPONIBILIDADE DOARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO
DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS.
CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO
DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EMTORNO DA
CLÁUSULA DA “RESERVA DO POSSÍVEL”.NECESSIDADE
DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA
INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO
CONSUBSTANCIADOR DO “MÍNIMO EXISTENCIAL”.
VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO
DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS
CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO) (STF,ADPF
45, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ de 29.04.2004).
No voto, o ministro Celso de Mello afirma que quando o Estado deixa de
cumprir uma imposição estabelecida pelo texto constitucional, trata-se de um
“comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante
inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos
que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a
própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental” (STF, ADPF
45, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ de 29.04.2004)
Não se está a falar que é atribuição do STF formular e implementar políticas
públicas,certo que se tratam de tarefas primariamente atribuídas ao Legislativo e
Executivo. No entanto, salienta o ministro, tais incumbências podem ser atribuídas
ao Judiciário “se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os
encargos políticojurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal
comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos
impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas
revestidas de conteúdo programático” (STF,ADPF 45, Rel. Ministro Celso de Mello,
DJ de 29.04.2004).
Ressalta Mello que não se admite que o Poder Público crie “obstáculo
artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de
frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e
dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência” (STF, ADPF 45, Rel.
Ministro Celso de Mello, DJ de 29.04.2004),concluindo, por fim, que o objetivo último
do Estado é servir aos cidadãos e não servir a si próprio.
Desse modo, ainda que se reconheça que a formulação e execução de
políticas públicas dependam de opções políticas daqueles que foram eleitos pelo
povo, não há uma liberdade absoluta para tomada de tais decisões, quer pelo
legislador, quer pelo Poder Executivo. Ou seja, nos casos em que sua inércia
acabar por tornar letra morta o texto constitucional no que diz respeito à garantia de
direitos sociais, haverá uma afronta ao texto constitucional e, portanto, justificável a
atuação do Poder Judiciário.
Assim, a liberdade de conformação do legislador deve se dar dentro da
moldura constitucional, de modo a realizar a Constituição. Não há liberdade na sua
inércia, mas apenas no modo em que se realizará os direitos constitucionais.
O ministro Celso de Mello, em outro momento, se manifestou no sentido de
que “embora resida, primariamente, nos poderes Legislativo e Executivo, a
prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no
entanto, ao Poder Judiciário determinar,ainda que excepcionalmente, principalmente
nos casos de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam as
mesmas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão – por
importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem
em caráter mandatório – mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade
de direitos sociais impregnados de estatura constitucional” (STF, RE 436.996, Rel.
Ministro Celso de Mello, DJ de 3.2.2006).
Ainda, é de se trazer à colação a decisão do ministro Gilmar Mendes, quando
do julgamento doAgravo Regimental na Suspensão de Liminar 47,cuja ementa se
transcreve:
Suspensão de Liminar.Agravo Regimental. Saúde
pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da
Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde –
SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde.
Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos
casos concretos que envolvem direito à saúde.
Responsabilidade solidária dos entes da Federação em
matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços
prestados em hospital público. Não comprovação de grave
lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública.
Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo
regimental a que se nega provimento (STF, SL 47 AgR, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, DJU 30.4.2010).
Na referida decisão entendeu o ministro que o Judiciário pode decidir sobre o
fornecimento de outro medicamento ou tratamento diversamente do custeado pelo
SUS e, nesse caso, “ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas
sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Judiciário
não está criando política pública, mas apenas determinando o seu cumprimento”
(STF, SL 47 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJU 30.4.2010). Afirmou, ainda, que
era evidente, no caso em tela, a existência de um direito subjetivo público a
determinada política pública de saúde.
O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou em controle efetivo
de orçamento público, para que se destinem verbas específicas a realização de
finalidades constitucional:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL
PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO:
NOVA VISÃO. 1. Na atualidade, o império da lei, e o seu
controle, a cargo do Judiciário, autoriza que se examinem,
inclusive, as razões de conveniência e oportunidade do
administrador. 2. Legitimidade do Ministério Público para exigir
do Município a execução de política específica, a qual se
tornou obrigatória por meio da resolução do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 3.Tutela
específica para que seja incluída verba no próximo orçamento,
a fim de atender a propostas políticas certas e determinadas.
4. Recurso especial provido. (STJ, Resp 493.811, Rel. Ministra
Eliana Calmon, DJ de 15.3.2004).
Verifica-se que o STJ admitiu a possibilidade de controle judicial de políticas
públicas através do orçamento, inclusive direcionando verbas do próximo
orçamento. O valor a ser destinado e a política específica a serem adotados, estes
sim, ficam na discricionariedade do administrador. Mas não há discricionariedade
em não realizar uma política pública exigida constitucionalmente. Esta é vinculante e
por isso andou bem o STJ ao exigir destinação específica para atender objetivo da
Carta Constitucional.
No Recurso Especial 1.041.197-MS, o ministro Humberto Martins justifica a
possibilidade do controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário em casos
excepcionais, quando a administração pública age sem razão ou extrapola os limites
de sua competência, casos em que o Judiciário poderá corrigir tal situação (STJ,
REsp 1.041.197, Rel. Ministro Humberto Martins, DJ de 16.9.2009).
Aduz o ministro que o princípio da Separação dos Poderes deve ser lido à luz
da nova Constituição, que atribui novos papéis ao Estado na realização dos direitos
sociais e, ao exigir uma atuação ativa da Administração Pública, acaba por exigir
uma atuação mais forte de fiscalização do Poder Judiciário. Não se quer dizer que a
atuação do Judiciário no controle de políticas públicas pode se dar de forma
indiscriminada, mas, quando a Administração Pública violar direitos fundamentais, a
“interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento
para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada (STJ, REsp 1.041.197,
Rel. Ministro Humberto Martins, DJ de 16.9.2009).
Ainda, em seu voto, afirma o ministro Humberto Martins que deveria a
Administração Pública ter previsto orçamento específico para suprir a falta de
equipamentos hospitalares, evitando ações como a presente, não cabendo ao
Judiciário restar passivo frente a tais demandas e a omissão injustificada da
administração em efetivar políticas públicas (STJ, REsp 1.041.197, Rel. Ministro
Humberto Martins, DJ de 16.9.2009).
Nesse mesmo sentido, o ministro Luiz Fux já se manifestou defendendo que
a determinação judicial do dever de coleta de lixo, na medida em que causa prejuízo
à saúde, não significa ingerência do Judiciário na esfera da administração, uma vez
que “não há discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados,
quiçá constitucionalmente” já que “nesse campo a atividade é vinculada sem
admissão de qualquer exegese que vise afastar a garantia pétrea” (STJ, REsp
575998, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ de 16.11.2004).
Verifica-se, desse modo, que o Judiciário brasileiro avançou bem no sentido
de enfrentar as questões de políticas públicas que envolvem direitos fundamentais,
especialmente nos casos de inércia ou má atuação dos poderes eleitos.