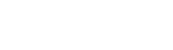A delimitação do assunto sobre a responsabilidade do Estado diz respeito às obrigações extracontratuais decorrentes dos atos lesivos lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos das pessoas jurídicas que o integram. Assim, toda vez que o Poder Executivo, Poder Legislativo ou o Poder Judiciário, por meio de seus agentes, que desempenham a função pública em nome do Estado, acabam causando danos a terceiros, não se imputa a responsabilidade do agente que praticou determinado ato, nem tampouco se fala em responsabilidade civil da administração pública, pois essa não possui personalidade jurídica para tanto. É o Estado o responsável pelos atos de seus agentes, e caso seja comprovado o dolo ou culpa do funcionário público que gerou prejuízos ao erário, decorrente de ato que gerou uma indenização pecuniária a terceiro prejudicado, o Estado poderá promover ação de regresso em desfavor do agente público.
Assim, quem responde pelos atos dos agentes públicos no exercício da função não é o agente em primeiro lugar, mas a pessoa jurídica da qual faz parte[1].
Diante da delimitação do tema, faz-se necessário abordar a evolução histórica da responsabilidade civil, analisando os ensinamentos doutrinários sobre a criação de teorias que ditaram regras de imputação de responsabilidade por eventuais danos causados durante a história da humanidade, até se chegar à teoria adotada pelo Direito brasileiro na atualidade.
A evolução da responsabilidade civil do Estado, que interessa para o presente trabalho, passa a ser abordada desde a idade média, iniciando com a teoria da irresponsabilidade.
1.1. TEORIA DA IRRESPONSABILIDADE
Por muito tempo, no período dos Estados monárquicos absolutistas, isto é, durante a fase histórica em que a pessoa do rei se confundia com a própria personalidade do Estado e que todo o poder se concentrava no rei, o soberano, a teoria de aplicação da responsabilidade civil do Estado vigente foi a da irresponsabilidade.
Conforme ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o fundamento dessa teoria era o da soberania do Estado em relação aos seus atos, não se responsabilizando por danos que seus agentes cometessem, uma vez que naquela época o Estado jamais cometia erros, e sendo assim, sequer era cogitada a hipótese de responsabilizar o Estado por algum ato de seus agentes.
Da apresentação da teoria da irresponsabilidade do Estado pode-se perceber tamanha injustiça e desproporcionalidade na distribuição do poder e de responsabilização que existia naquela época, e resultando, consequentemente, na perda da força dessa teoria, por não enquadrar os atos dos agentes públicos nas práticas passíveis de responsabilização e de reparação em favor de terceiros, representantes do Estado, bem como os atos do próprio rei, quando lesivos.
O Estado dispõe de autoridade incontestável perante o súdito; ele exerce a tutela do direito, não podendo, por isso, agir contra ele; daí os princípios de que o rei não pode errar (the king can do no wrong; le roi ne peut mal faire) e o de que “aquilo que grada ao príncipe tem força de lei” (quod principi placuit habet legis vigorem). Qualquer responsabilidade atribuída ao Estado significaria colocá-lo no mesmo nível que o súdito, em desrespeito a sua soberania[2].
Sergio Cavalieri Filho leciona que:
A teoria da irresponsabilidade era a própria negação do direito. De fato, se no Estado de Direito o Poder Público também se submete à lei, a responsabilidade estatal é simples corolário, consequência lógica e inevitável dessa submissão. Como sujeito de personalidade, o Estado é capaz de direitos e obrigações como os demais entes, inexistindo motivos que possam justificar a sua irresponsabilidade. Se o Estado é o Guardião do Direito, como deixar ao desamparo o cidadão que sofreu prejuízos por ato próprio do Estado?[3]
Diante da injustiça que essa teoria pregava, não demorou muito para que novas correntes teóricas derrubassem a irresponsabilidade em busca de uma melhor distribuição do direito, dando lugar às teorias que aos poucos foram inserindo o Estado na responsabilidade, desenvolvendo-se, desta maneira, as teorias civilistas, com resquícios da irresponsabilidade em alguns casos.
1.2. TEORIAS CIVILISTAS
No século XIX a teoria da irresponsabilidade do Estado foi superada. Entretanto, ao considerar o Estado passível de ser responsabilizado, eram aplicados os princípios do direito civil, utilizando como fundamento a culpa; assim, tomam espaço na história as teorias civilistas da culpa aplicada à responsabilidade civil do Estado.
Com a superação da antiga teoria que regia o tema da irresponsabilidade civil do Estado, passou a viger a ideia de que o Estado responderia pelos danos que seus agentes, na função pública, causassem a terceiros mediante culpa. No entanto, havia uma distinção dos atos do Estado para que se pudesse identificar e especificar os atos que eram passíveis de responsabilização e os que não geravam nenhum dever de indenizar. Assim, criou-se pelas teorias civilistas a classificação dos atos de império e os atos de gestão[4].
Os atos de império não eram objetos de responsabilização, uma vez que eram conhecidos por suas características e prerrogativas de poderes especiais para manter a ordem do Estado, em que o Poder Público utilizava de medidas coercitivas e impositivas por atribuição legal como forma de manutenção da soberania.
De outro lado, os atos de gestão, sendo aqueles desempenhados para a conservação, realização de serviço público e práticas de desenvolvimento do patrimônio público, quando por atos de seus agentes, mediante culpa, causavam danos contra terceiros particulares, surgia do ilícito e do nexo causal o dever de reparação por parte do Estado.
Nessa ordem, o monarca nunca se enquadrava nos atos de gestão, havendo resquícios de uma irresponsabilidade civil do Estado que ainda não tinha sido totalmente superada pela adoção das teorias civilistas. Os atos de gestão, esses passíveis de imputar responsabilidade ao Estado, sempre eram praticados pelos agentes públicos a serviço da Administração Pública.
Essa distinção foi idealizada como meio de abrandar a teoria da irresponsabilidade do monarca por prejuízos causados a terceiros. Passou-se a admitir a responsabilidade civil quando decorrente de atos de gestão e a afastá-la nos prejuízos resultantes de atos de império. Distinguia-se a pessoa do Rei (insuscetível de errar – the king can do no wrong), que praticaria os atos de império, da pessoa do Estado, que praticaria atos de gestão, através de seus prepostos[5].
Nesse contexto, surgiu uma grande oposição no intuito de responsabilizar o Estado e eliminar a distinção entre os atos de império e os atos de gestão, e defendiam a impossibilidade de separar a personalidade do Estado, devendo caracterizar todos os atos do Estado como de gestão, pois praticados pura e simplesmente para a administração do patrimônio público[6].
Apesar de superada a distinção entre atos de império e de gestão, ainda havia autores que aceitavam a responsabilidade do Estado quando presente a culpa, equiparando o Estado no patamar de patrão, responsável pelos atos dos seus agentes públicos. Portanto, sob a égide das teorias civilistas, ou seja, da culpa civil ou responsabilidade subjetiva, a responsabilização do Estado era regulada nos termos do Código Civil.
Com o passar do tempo, novas teorias foram surgindo, como as teorias publicistas, cuja fundamentação para a responsabilização do Estado não é mais a do direito civil, passando a ser utilizado o direito público como regulador da matéria.
1.3. TEORIAS PUBLICISTAS
Continuando a evolução da responsabilidade civil do Estado, a jurisprudência francesa trouxe um novo entendimento acerca do tema através do famoso e triste caso Blanco, que revolucionou a ideia de responsabilidade civil do Estado. O instituto estava amarrado aos princípios que regiam a matéria do Direito Civil, até que o Tribunal de conflitos, no caso ocorrido em 1873, ao julgar procedente o pedido de indenização em favor do pai da menina Agnes Blanco transformou a responsabilidade civil do Estado, dando início a uma nova fase para o instituto.
Veja-se as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro sobre o tema:
a menina Agnes Blanco, ao atravessar uma rua da cidade de Bordeaux, foi colhida por uma vagonete da Cia. Nacional de Manufatura do Fumo; seu pai promoveu ação civil de indenização, com base no princípio de que o Estado é civilmente responsável por prejuízos causados a terceiros, em decorrência de ação danosa de seus agentes. Suscitado conflito de atribuições entre a jurisdição comum e o contencioso administrativo, o Tribunal de Conflitos decidiu que a controvérsia deveria ser solucionada pelo tribunal administrativo, porque se tratava de apreciar a responsabilidade decorrente de funcionamento do serviço público. Entendeu-se que a responsabilidade do Estado não pode reger-se pelos princípios do Código Civil, porque se sujeita a regras especiais que variam conforme as necessidades do serviço e a imposição de conciliar os direitos do Estado com os direitos privados[7].
Esse foi o marco do desenvolvimento das teorias publicistas, segundo os princípios básicos do direito público e serviu de impulso para a inclusão total do Estado na responsabilidade civil, dando início ao surgimento da teoria da culpa do serviço ou da culpa administrativa e a teoria do risco, desdobrada, por alguns autores, em teoria do risco administrativo e teoria do risco integral[8].
1.3.1. Teoria da culpa do serviço
A teoria da culpa do serviço, conhecida também como teoria da culpa administrativa ou acidente administrativo, procura desvincular a responsabilidade do Estado da ideia de culpa do funcionário[9], assim, passou a falar em culpa do serviço público.
O doutrinador Carvalho Filho assim leciona:
A falta do serviço podia consumar-se de três maneiras: a inexistência do serviço, o mau funcionamento do serviço ou o retardamento do serviço. Em qualquer dessas formas, a falta do serviço implicava o reconhecimento da existência de culpa, ainda que atribuída ao serviço da Administração. Por esse motivo, para que o lesado pudesse exercer seu direito à reparação dos prejuízos, era necessário que comprovasse que o fato danoso se originava do mau funcionamento do serviço e que, em consequência, teria o Estado atuado culposamente. Cabia-lhe, ainda, o ônus de provar o elemento culpa[10].
Essa teoria resume-se em três situações que o serviço público prestado é capaz de gerar a reparação por parte do Estado: a) o serviço público não funcionou (omissão), b) funcionou atrasado ou c) funcionou mal. Ocorrendo qualquer das hipóteses mencionadas, independentemente de culpa do funcionário público que praticou ou deixou de praticar o ato quanto deveria, a responsabilidade é do Estado.
1.3.2. Teoria do risco administrativo
O que interessa para o presente estudo será abordar os conceitos e características da teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral.
A respeito da teoria do risco administrativo, Hely Lopes Meirelles ensina que tal teoria, como o nome já indica, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração, todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda pública[11].
O Direito brasileiro adotou a teoria do risco administrativo. Dispensa-se a necessidade de comprovação do dolo ou culpa da Administração Pública. Exige-se tão somente que o lesionado demonstre a existência de um fato administrativo, a existência de um dano e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano[12].
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[13].
De acordo com o professor Carvalho Filho:
No risco administrativo, não há responsabilidade civil genérica e indiscriminada: se houver participação total ou parcial do lesado para o dano, o Estado será responsável no primeiro caso e, no segundo, terá atenuação no que concerne a sua obrigação de indenizar. Já no risco integral, a responsabilidade sequer depende do nexo causal e ocorre até mesmo quando a culpa é da própria vítima[14].
A teoria do risco administrativo possui excludentes de responsabilidades que, se comprovadas, não ensejarão a obrigação do Estado indenizar por eventuais danos, o que a distingue da teoria do risco integral.
Conforme o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, além das excludentes de responsabilidade, há também causas atenuantes e equiparativas de responsabilidade. Como o nexo de causalidade é o elemento essencial para caracterizar a responsabilidade civil, esta será excluída quando o dano for resultado de força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa de terceiros. No entanto, quando o resultado se der por caso fortuito haverá atenuação da responsabilidade[15].
Há diferença conceitual entre força maior e caso fortuito para o tema da responsabilidade civil, de acordo com a doutrina adotada por Maria Sylvia Zanella Di Pietro.
força maior é acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, como uma tempestade, um terremoto, um raio. Não sendo imputável à Administração, não pode incidir a responsabilidade do Estado; não há nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da Administração.
Já o caso fortuito – que não constitui causa excludente da responsabilidade do Estado – ocorre nos casos em que o dano seja decorrente de ato humano ou de falha da Administração; quando se rompe, por exemplo, uma adutora ou um cabo elétrico, causando dano a terceiros, não se pode falar em força maior, de modo a excluir a responsabilidade do Estado[16].
Apesar de ser um acontecimento imprevisível, em casos de força maior, se aliada com a omissão do Estado, como por exemplo, durante as chuvas que causam alagamentos e verifica que o Poder Público deixou de prestar ou quando apresenta um mau funcionamento no que tange à limpeza dos bueiros e vias de evasão da agua, o Estado por ser omisso poderá ser responsabilizado pela culpa do serviço público.
1.3.3. Teoria do risco integral
Já a teoria do risco integral diferencia-se do risco administrativo por não admitir excludentes ou atenuantes de responsabilidade, isto é, o Estado será responsabilizado por eventuais danos causados independentemente da existência de dolo ou culpa.
Atualmente existem hipóteses previstas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que a teoria do risco integral é aplicada, como exceção à teoria adotada no país, e as situações estão dispostas no artigo 21, inciso XXIII, alínea d:
Art. 21. Compete à União:
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:
d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa[17]
Segundo Carvalho Filho:
no risco integral a responsabilidade sequer depende do nexo causal e ocorre até mesmo quando a culpa é da própria vítima. Assim, por exemplo, o Estado teria que indenizar o indivíduo que se atirou deliberadamente à frente de uma viatura pública. É evidente que semelhante fundamento não pode ser aplicado à responsabilidade do Estado, só sendo admissível em situações raríssimas e excepcionais[18].
As Constituições de 1824 e 1891 não continham disposição que previsse a responsabilidade do Estado, previam apenas responsabilizar o funcionário que abusasse ou se omitisse nas atribuições de suas funções[19].
Com o advento do Código Civil de 1916, entendeu a doutrina que a teoria adotada como regra seria a da responsabilidade subjetiva do Estado, tendo em vista o preconizado no artigo 15 daquele diploma:
“as pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos de seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo do modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo direito regressivo contra os causadores do dano”[20].
A intepretação do texto trazia ao entendimento de que ao lesionado caberia o dever de provar que o agente público, na função pública, agiu de forma diversa ao disposto em lei, e assim, sendo culposo o ato, ou seja, o Estado responderia pelos danos se fosse comprovado que houve culpa no ato lesivo, caso contrário não surgiria o dever de indenizar.
Quebrando a regra antes prevista, a Constituição de 1946 adotou a teoria da responsabilidade objetiva ao dispor no artigo 194 o regramento diverso do que até então era mantido pela doutrina.
Art 194 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros.
Parágrafo único - Caber-lhes-á ação regressiva contra os funcionários causadores do dano, quando tiver havido culpa destes[21].
A constituição de 1967 também previa o mesmo em seu artigo 105:
Art 105 - As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que es seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros.
Parágrafo único - Caberá ação regressiva contra o funcionário responsável, nos casos de culpa ou dolo[22].
1.3.4. Direito de regresso
Com a promulgação da Constituição de 1988, em vigor até os dias atuais, cuidou em dispor o legislador no artigo 37, § 6º, o seguinte:
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[23].
Dessa forma, a Constituição Federal de 88 estabeleceu que o Estado responderá objetivamente pelos atos de seus agentes e, que os agentes responderão ao Estado subjetivamente.
Assim, os atos lícitos ou ilícitos que causarem danos a particulares, independentemente de dolo ou culpa, gerarão o dever do Estado indenizar, salvo se estiverem presentes as causas excludentes ou atenuantes de responsabilidade.
As hipóteses de exclusão de responsabilidade civil do Estado são: caso fortuito, fato e terceiro e culpa exclusiva da vítima.
Já em relação aos agentes, estes responderão, por força do Direito de regresso, se a Administração pública provar que a conduta lesiva do agente contra o particular foi praticada mediante dolo ou culpa, uma vez que a responsabilidade dos agentes públicos para com o Estado é subjetiva.
Nesse sentido ensina Hely Lopes Meirelles:
O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados[24].
A respeito do direito de regresso, Elias Freie assim leciona:
Em decorrência da responsabilidade subjetiva do agente público, é assegurado ao Poder Público o direito de regresso no sentido de dirigir sua pretensão indenizatória contra o agente responsável pelo dano, desde que este tenha agido com culpa ou dolo[25].
Pode-se dizer que a evolução histórica da responsabilidade civil do Estado desde os tempos dos Estados absolutistas foi gradativa em relação à proteção do particular diante de atos do Poder Público, sendo a doutrina, no mesmo passo, aperfeiçoada, a fim de equilibrar a relação entre as partes, visando a melhorar aplicação do direito e da justiça.