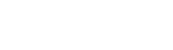O que vem a ser Direito?
Antes de conceituar o direito Dworkin discorre acerca da dificuldade que se tem em definir de fato o que vem a ser “o direito” e o que é considerado “obrigação jurídica”. Cita os nominalistas, que defendem que esses conceitos devem ser ignorados, tratando-os como mitos Dworkin (2002, p. 25) “são mitos, inventados e mantidos pelos juristas em nome de uma sombria mistura de motivos conscientes e inconscientes”. Dworkin discorda desse posicionamento, mas admite que seja extremamente difícil determinar, mas não pode ser ignorado ou descartado sem antes se elaborar uma teoria geral que o abarque.
Antes de adentrar especificamente ao conceito de direito faz-se necessário, nos termos de Dworkin (2002, p. 39-41) elucidar uma questão relevante, tal como a diferença apresentada entre os princípios jurídicos e as regras jurídicas:
A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão.
E ainda, elucida em paralelo acerca dos princípios:
Mas não é assim que funcionam os princípios apresentados como exemplos nas citações. Mesmo aqueles que mais se assemelham a regras não apresentam conseqüências jurídicas que se seguem automaticamente quando as condições são dadas. Dizemos que o nosso direito respeita o princípio segundo o qual nenhum homem pode beneficiar-se dos erros que comete. Na verdade, é comum que as pessoas obtenham vantagens, de modo perfeitamente legal, dos atos jurídicos ilícitos que praticam. O caso mais notório é o usucapião – se eu atravesso suas terras sem autorização durante muito tempo, algum dia adquire o direito de cruzá-las quando o desejar. Há muitos exemplos menos dramáticos. Se um homem abandona seu trabalho, rompendo um contrato, para assumir outro emprego mais bem pago, ele pode ter que pagar indenização a seu primeiro empregador, mas em geral ele terá direito de manter seu novo salário. Se um homem foge quando está sob fiança e cruza a fronteira estadual para fazer um investimento brilhante em outro estado, ele poderá ser remetido de volta à prisão, mas ele manterá os lucros.
Não trataremos esses contra-exemplos – e inumeráveis outros que podem ser facilmente concebidos – como uma indicação de que o princípio acerca da obtenção de vantagens a partir dos próprios atos ilícitos não é um princípio de nosso sistema jurídico ou que ele é incompleto e requer exceções que o limitem.
Ao que defende Dworkin, os princípios não precisam ser completos, tendo em vista que sua função não é determinar uma conduta, mas um sentido de condutas. Um padrão ideal que não fica incompleto por deixar de prever todas as inúmeras exceções a ele, caso este que não se aplica às regras jurídicas, que devem ser completas e sempre seguidas.
A partir de então, inicia-se uma abordagem que há de se focar no conceito de direito. Para isso Dworkin define que tanto regras quanto princípios delimitam direitos, cada um em suas peculiaridades. Os princípios convivem no mundo jurídico em todos os seus seguimentos, tanto na docência direta, quanto nas obras doutrinárias e até em análises históricas sobre o direito, mas onde se encontram a mais forte atuação dos princípios jurídicos é nos casos judiciais difíceis, denominados hard cases, onde o sistema jurídico, a partir da decisão cria uma regra de conduta que a partir de então ganha obrigatoriedade de cumprimento.
Explica Dworkin (2002, p. 46):
(...) parecem atuar de maneira mais vigorosa, com toda sua força, nas questões judiciais difíceis, como os casos Riggs e Heningsen. Em casos como esses os princípios desempenham um papel fundamental nos argumentos que sustentam as decisões a respeito de direitos e obrigações jurídicas particulares. Depois que o caso é decidido, podemos dizer que ele ilustra uma regra particular (por exemplo, a regra de que um assassino não pode beneficiar-se do testamento de sua vítima). Mas a regra não existe antes de o caso ser decidido; o tribunal cita princípios para justificar a adoção e a aplicação de uma nova regra.
Os princípios, como se entende, orientam padrões de aplicação de regras tendo como fim a consecução da justiça juridicamente almejada.
Dworkin (2002, p. 46-47) trabalha também dois moldes de aplicação principiológica, afirmando serem duas correntes que se manifestam na doutrina jurídica, conforme se apresentam:
- Podemos tratar os princípios jurídicos da mesma maneira que tratamos as regras jurídicas e dizer que alguns princípios possuem obrigatoriedade de lei e devem ser levados em conta por juízes e juristas que tomam decisões sobre obrigações jurídicas. Se seguirmos essa orientação, deveremos dizer que nos Estados Unidos “o direito” inclui, pelo menos, tanto princípios como regras.
(b)Por outro lado, podemos negar que tais princípios possam ser obrigatórios no mesmo sentido que algumas regras o são. Diríamos, então, que em casos como Riggs e Henningsen o juiz vai além das regras que ele está obrigado a aplicar (isto é, ele vai além do “direito”), lançando mão de princípios extralegais que ele tem liberdade de aplicar, se assim o desejar.
As duas visões aparentemente se assemelham, porém, segundo elucida Dworkin (2002), o resultado gerado por qualquer das situações jurídicas mencionadas é completamente diverso do outro. Explica que adotar para si uma determinada prática é diferente de estar submetido a uma regra. Noutros termos, não comete nenhum ato incorreto quem descumpre com o que adotou praticar, mas age de forma errada quem descumpre uma regra de direito.
Pela inteligência narrada, não é direito o resultado decorrente de uma prática a qual se opta, ainda que socialmente, cumprir. Mas é direito aquilo que decorre de uma verdadeira regra, que se sobrepõe independentemente da aceitação ou opção do indivíduo que há de cumpri-la.
Ensina Dworkin (2002), exemplificando, que se uma regra jurídica se impõe ao juiz, de forma que ele é obrigado a seguir, neste caso sim haveria um direito daquele que se submete à sua apreciação. Por outro lado, se determinado grupo de juízes opta por adotar determinada regra e a utiliza corriqueiramente, isso não implica, por si só, que existe direito daquele que se submete à apreciação do juiz antes que ele decida daquela forma.
Elucida Dworkin (2002, p. 48 – 49):
As duas linhas de ataque aos princípios correm em paralelo a essas duas abordagens das regras. A primeira alternativa trata os princípios como obrigatórios para os juízes, de tal modo que eles incorrem em erro ao não aplicá-los quando pertinente. A segunda alternativa trata os princípios como resumos daquilo que os juízes, na sua maioria, “adotam como princípio” de ação, quando forçados a ir além dos padrões aos quais estão vinculados. A escolha entre essas duas abordagens afetará, e talvez chegue mesmo a determinar, a resposta que podemos dar à questão de saber se, em casos difíceis como Riggs ou Henningsen, o juiz está tentando aplicar direitos e obrigações jurídicos preexistentes.
E ainda assevera que:
No primeiro caso, ainda temos a liberdade de argumentar que, como esses juízes estão aplicando padrões jurídicos obrigatórios, estão também aplicando direitos e obrigações jurídicos. Porém, se partirmos da segunda alternativa, teremos abandonado a esfera dos tribunais no tocante a esse ponto e teremos que reconhecer que a família do assassino no caso Riggs e o fabricante, no caso Henningsen, foram privados de seus bens por um ato de poder discricionário do juiz, aplicado ex post facto.
Diante do que explica Dworkin (2002), os princípios jurídicos podem ser vistos de qualquer das formas. Como obrigatórios, sendo que se assim se interpretar eles hão de ser aplicados sempre, ou seja, as regras impostas são ordens que não podem ser descumpridas. Ou também, podem ser vistos de forma a apenas orientar, de forma que, quando alguém não cumprir não há de estar fazendo nada de errado, mas tão somente descumpriu com algo que era orientado para que fizesse.
Dworkin (2002, p. 76-77) elabora um molde de racionalizar tais diferenças gramaticalmente, de forma que fique mais fácil a apreensão:
Às vezes dizemos que, de um modo geral, considerados todos os aspectos de uma situação, alguém “deve” (ought) ou “não deve” (oughtnot) fazer algo. Em outras ocasiões, dizemos que alguém tem uma “obrigação” (has a obligationto) ou um “dever” (has a dutyto) de fazer algo, ou que “não temos o direito” (no right) de fazê-lo. Esses são tipos distintos de juízos: Uma coisa é, por exemplo, simplesmente dizer que alguém deve (oughtto) contribuir para uma instituição de caridade determinada e outra, completamente diferente, dizer que ela tem o dever (has a dutyto) de fazer caridade. Uma coisa é dizer a uma pessoa apenas que ela não deve (oughtnot) tomar bebidas alcoólicas ou fumar maconha; outra coisa, completamente diferente, é dizer-lhe que não tem o direito (has no rightto do) de fazer isso.
Diante do que explica Dworkin (2002) obrigações, juízos de dever têm, comumente muito mais força prática que aqueles que apenas recomendam uma determinada conduta. Os casos apresentados em que é colocado que a pessoa “deve” agir de determinada foram apenas orientam, sugerem um caminho. Os outros, onde se coloca a expressão “tem o dever de” não existe outra opção correta além da obrigação imposta.
Dworkin (2002) explica que o direito não sugere comportamento, ele determina, ele não apresenta um molde esperado de comportamento, mas impõe uma obrigação. E, quando não o faz, aí sim é que se espera do juiz um julgamento fulcrado no dever, de forma discricionária.
Questiona ainda a validade da legislação e até da constituição de um Estado, quando as trata por obrigação. Dworkin (2002) analisa a questão colocada de por que os juízes estão subordinados à lei. Afirma ainda o autor que a origem da regra que impõe uma obrigação sobre o que a lei determina não é clara. Alega que não é possível derivar essa obrigação simplesmente do fato de ter sido criada pelo Poder Legislativo, pois daí surgiria novo questionamento, acerca de por que o Poder Legislativo teria esse poder de ordenar. Sugere novamente que poderia derivar da Constituição, mas questiona o que obriga que os juízes se submetam à Constituição. E novamente alega que não é possível afirmar que a própria Constituição assim o exige, pois essa regra cairia no mesmo problema de todas as outras. Por que tem o dever de ser seguida?
Dworkin (2002, p. 79) finaliza essa linha de argumentação:
Se nos contentássemos simplesmente em dizer que os juízes devem (oughtto) seguir a legislação ou a Constituição, a dificuldade não seria tão séria. Podemos fornecer um sem-número de razões para esta alegação mais limitada; por exemplo, que, considerados todos os aspectos, todos estariam em melhores condições a longo prazo, caso os juízes se comportassem dessa forma.
Mas já põe fim alegando que essa não é uma hipótese persuasiva, que isso, por si só não garante a existência de um dever, uma obrigação de fato que têm esses juízes de seguirem esses diplomas legais. E assevera para a necessidade de que se encontrem reais fundamentos para a existência de tal submissão.
REFERÊNCIAS
DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério / Ronald Dworkin: tradução e notas Nelson Boeira. – São Paulo: Martins Fontes, 2002. – (Justiça e direito)